★★★✰✰ ‘First Man’, um terramoto audiovisual

O metal treme. Os parafusos ameaçam abandonar os buracos onde foram matematicamente colocados. Como um acelerador que ficou preso depois dum acidente, o motor rosna duma forma ensurdecedora. O piloto, de seu nome Neil, inspira profundamente uma vaga de preocupação, conforme o seu avião X-15, em vez de reentrar na atmosfera após uma breve escapadela, ressalta para fora desta, para pânico de todos os envolvidos na missão. Mas Neil mantém a calma, a frieza é a sua imagem de marca, o seu dom natural. A câmara, ora materializa o rosto suado do herói, ora apresenta o seu ponto de vista sobre um painel antiquado, coberto de botões e medidores que nada diriam ao ser humano comum, mas que este, no meio da instabilidade do veículo, tem de decifrar de maneira a livrar-se duma morte solitária, perdido na vastidão do Espaço, fechado num ergástulo de lata. Mas a tarefa não se adivinha fácil – tudo chocalha, tudo range e ameaça partir, tudo faz crer que ser piloto ou astronauta nos anos 60 era um trabalho assustador, assente na experimentação tecnológica e emocional. E todas as cenas de 'First Man' que envolvem viajar no Espaço, dentro duma nave claustrofóbica, seguem este regime audiovisual, uma tremenda desarrumação que se torna bem-vinda graças a uma sonoplastia fenomenal. É o som que lhes oferece emoção, que lhes dá vida no meio do escuro e dos planos instáveis. E porque será? Tendo em conta que, na sua grande maioria, estes planos são o produto visual do que os olhos da personagem principal veem, não deixa de ser preocupante que os sentimentos despertados por este conjunto de cenas espaciais nasçam da estridência audiovisual, e não dum potencial colocar da audiência na pele do protagonista. Por mais perfurantes que estes passeios extraterrenos sejam, é de assinalar que é também grande o seu vazio emocional e isso talvez se deva a uma simples ideia: Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling, independentemente do seu feito heróico, é uma personagem relativamente desinteressante, parca em exaltação ou expressividade, maneirismo que o realizador Damien Chazelle e o guionista Josh Singer, de forma algo maniqueísta, tentam associar repetidamente ao falecimento precoce da sua filha, opção que até rema no sentido oposto da biografia homónima escrita por James R. Hansen, na qual o filme se baseia. Nesse pedaço de literatura, o escritor, devidamente autorizado pelo astronauta, nunca reduzindo o óbvio impacto da morte dum filho, não atribui a personalidade de Armstrong ao luto ou ao desgosto, mas antes a um homem que, já antes desse infortúnio, era inerentemente calmo e introvertido, e que detestava todos os minutos que passava debaixo do holofote. Segundo o livro, este era um sujeito extremamente inteligente, um “engenhocas” inato, um “homem de família” com uma personalidade recatada que, devido ao seu profissionalismo e profundo conhecimento técnico dos requisitos da missão, e sujeito a circunstâncias nefastas como a morte de outros candidatos a esse cargo de “primeiro homem”, acabou por ser o escolhido pela NASA para liderar a viagem à Lua. Mas, para Chazelle, tal descrição talvez tenha complicado as contas. Como executar um filme assente maioritariamente em planos subjetivos, também conhecidos por “POV”, se a personagem cujo ponto de vista está a ser explorado é deveras maçadora e introversa? O que se tem é um “problema de subjetividade”.
Geralmente, quando o “problema da subjetividade” surge – será que a perspetiva desta personagem é suficientemente estimulante ou relevante? – os cineastas costumam atacar a questão em três frentes distintas.
Primeira solução: construir personagens secundárias complexas que, através de interações físicas ou diálogos, consigam ilustrar o estado psicológico e emocional da personagem principal. Um bom exemplo desta dinâmica é a personagem Furiosa, interpretada por Charlize Theron, que, em 'Mad Max: Fury Road' (2015), foi rabiscada à medida da exploração dos defeitos e virtudes da personagem sibilina interpretada por Tom Hardy. Ora, um dos principais pecados de First Man é precisamente a destituição das personagens secundárias ao estatuto de meros adornos, enfeites caricaturais que deambulam à volta da personagem de Gosling só para exaltar ainda mais o seu lado tedioso. Por exemplo, os colegas astronautas de Neil, todos eles a trabalhar na mesma missão, poderiam ter servido de espelho para o herói americano, ou seja, já que este é bastante inexpressivo, alguma destas personagens secundárias ficaria a cargo de expressar, indiretamente, os seus medos e receios, visto estarem todos no mesmo barco, sujeitos às mesmas condições experimentais e incertas. O candidato ideal seria o astronauta Ed White, interpretado por Jason Clarke. Contudo, quase teimosamente, Chazelle nunca ousou desviar as atenções do seu objeto de estudo, entrar numa outra casa senão a dele, andar numa outra rua senão a dele. A única personagem que dá luta a esta ditadura criativa é a esposa do astronauta, interpretada por Claire Foy. Tendo em conta o material à sua disposição, a atriz faz um trabalho impecável na recriação duma esposa enervada com uma situação bastante incomum. As cenas protagonizadas por esta são a pequena bolsa de ar onde o filme tem espaço para respirar, para ponderar toda a envolvência psicológica da situação.
Segunda solução: pôr a personagem cujo ponto de vista está a ser explorado em contacto com a realidade macrossocial que a rodeia. Neste aspeto, o filme somente apresenta a vida de Neil num contexto profissional ou doméstico, evitando que este seja exposta a qualquer contacto com um ambiente social diversificado, quase como um eremita que não abandona a sua sala de meditação. Esta dinâmica só é ligeiramente quebrada quando este tem de responder a algumas perguntas de jornalistas ou participar num convívio na Casa Branca. Porém, ambos os eventos são ultrapassados com uma rapidez quase incómoda, principalmente para quem estaria à espera duma análise contextual do tema: o que é que o sistema político pensava da viagem à Lua? Qual era a opinião do povo? Qual é que era o ambiente sociopolítico da altura? Apesar de algumas palpações apressadas do pulso social, nessa fuga às grandes questões da altura – a guerra do Vietname, a Guerra Fria ainda presente, a contestação face às más condições de vida, uma NASA bastante racista tal como é exposto em 'Hidden Figures' (2016) – Chazelle apresenta um reino doméstico completamente imune ao mundo exterior, um reduto exemplo da classe média norte-americana que, apesar da sua banalidade, faz coisas extraordinárias, mas sem ir ao super-mercado, sem tecer qualquer comentário sobre o que se vê na televisão, sem ideologias políticas assinaláveis numa altura em que a política andava em reboliço, sem profundidade. O cineasta optou antes por concentrar o sumo da narrativa nas instalações da NASA e nos quadros repletos de algoritmos e equações, por onde vagabundeiam personas idênticas ao protagonista, homens brancos de meia-idade, todos eles de ar estoico e vertical – como se o herói americano não pudesse ser divertido e descontraído – que pouco acrescentam ao tema desenvolvido: não deixa de ser frustrante que, num filme sobre a ida à Lua, um momento histórico para o Homem, se fique a saber tão pouco sobre o assunto duma ótica social, logística e conceptual. Na altura, muitos criticaram Christopher Nolan por, em 'Interstellar' (2014), pôr Cooper, interpretado Matthew McConaughey, a explicar a missão num quadro, mas a verdade é que alguns filmes, por vezes, precisam dessa exposição mais alargada, pois ajuda o espectador a inteirar-se das adversidades que as personagens vão enfrentar e do peso psicológico envolvido. Se Cooper e os seus parceiros não tivessem perdido largos minutos a explicar as teorias físicas e quânticas que afetavam a narrativa do filme – a possibilidade de se perderem dezenas de anos numa mera viagem de horas a um novo planeta -, provavelmente, teríamos todos ficado bastante confusos quando este liga um ecrã e vê os seus filhos adultos e cansados, em vez dos adolescentes energéticos que deixou para trás, perdendo essa cena específica o devido impacto emocional. Chegada a hora da verdade, o fim que já todos conhecemos, apesar das céleres explicações, faltou a 'First Man' essa sensação de causa-efeito. A obra concentrou-se tanto na vida desse “primeiro homem” sisudo que, face à sua sequidão, é impossível não ponderar o quão o filme teria saído beneficiado se não estivesse tão preso ao seu ponto de vista.
Terceira solução: contratar um ator muito competente que, mesmo perante as limitações do guião, conseguisse transparecer emoção através de gestos e expressões faciais, derivando o projeto, no processo, para um estudo de personagem intimista. E Gosling era, à partida, a escolha perfeita para encarnar este herói relutante, ora não fosse o ator exímio na interpretação de personagens glaciais. Porém, aqui, esse talento específico não é utilizado duma forma produtiva, mas antes explorativa. Como tal, são vários os planos fechados do seu rosto, por norma acompanhados duma melodia melancólica, sem que este materialize nenhuma expressão relevante, senão um olhar fixo num qualquer ponto do cenário, como se isso chegasse para nos convencer de que se está perante uma personagem labiríntica ou enigmática. Existe uma tentativa de impingir ao espectador essa herculana tarefa de decifrar Neil Armstrong, quando, na prática, estamos apenas a olhar para o mesmo semblante que preencheu quase todo o filme, gerando-se um processo de repetição.
Todavia, não obstante a incapacidade de originar intensidade dramática, 'First Man' é, sem dúvida, um terramoto audiovisual. Com a colaboração da trindade criativa que muito tem contribuído para o sucesso da sua jovem carreira – o cinematógrafo Linus Sandgren, o compositor Justin Hurwitz e o editor Tom Cross –, Chazelle conseguiu esconder as limitações do seu protagonista e da narrativa montada à sua volta com um trabalho técnico absolutamente extraordinário. Apesar de exagerar na utilização da câmara de mão, com demasiados planos movediços em cenas que gritavam por uma abordagem mais estável, Sandgren fez a história viajar pela imagem granulada das películas de 16mm e 35mm, utilizadas principalmente nas cenas domésticas, com destaque para os movimentos curvados da câmara, técnica imortalizada pela realizador Terrence Malick em 'The Tree of Life' (2011). O objetivo passou claramente por dar um toque poético às cenas em que Armstrong brinca com os filhos e interage com a esposa duma forma mais descontraída, a lembrança perpétua de que naquela casa também havia felicidade e amor. Só para depois saltar para dentro da nave com a câmara IMAX, permitindo que um abanão tecnológico se apodere do filme. Nesse compromisso de simular com exatidão a missão espacial, sem que, no entanto, se perdesse o conceito de obra de arte, entra em jogo uma banda sonora à altura do acontecimento, especialmente na derradeira missão em que foi executada uma deliciosa coordenação entre os alarmes sonoros da Apollo 11 e a partitura suave e épica de Hurwitz. Por fim, coube a Cross fechar-se na sala de montagem e salvar o filme da monotonia terrestre. À semelhança do trabalho efetuado em Whiplash (2014), o editor conseguiu montar as imagens de voo de forma a criar uma experiência imersiva e esgotante, numa corda bamba entre o desastre e o milagre, entre a pura confusão e a trova rítmica e barulhenta que se tem como resultado. Portanto, ficou-se com um filme com dois andamentos distintos: uma valsa estridente e realista no ar, e um drama sorumbático em terra, sendo que ambos estão interligados pela ausência dum pêndulo emocional robusto e convincente. Reza a lenda que, na vida real, durante as duas horas e meia que caminhou pela superfície lunar, linha temporal que é pobremente ilustrada no filme, Armstrong se terá dirigido até ao limiar duma cratera e atirado para o solo um objeto de valor sentimental, potencialmente ligado à sua filha falecida quase dez anos antes. Apesar da teoria ser bastante apelativa, nunca nenhum documento oficial ou familiar do astronauta confirmou a sua veracidade, o que aponta para um exercício de pura especulação. Não deixa de ser curioso que Chazelle, no meio dum tratamento extremamente realista e factual, tenha optado por incluir esse momento fictício no filme, usando ainda alguns flashbacks de última hora como apêndice. Outro desvio da exatidão foi a deturpação da linha temporal no início da narrativa. No filme, é dado a entender que a morte da filha mais nova de Armstrong, vítima dum tumor cerebral, ocorreu depois deste ter tido um episódio assustador em que o avião X-15 que pilotava ressaltou para foram da atmosfera terrestre. Após o funeral da criança, este candidatou-se ao programa espacial da NASA. Porém, na vida real, Karen faleceu antes do acidente de avião, o que sugere que, sem que um acontecimento seja dissociado do outro, foi o dito sinistro aéreo o derradeiro catalisador da “mudança de ares”. Resumindo, sempre que a oportunidade se apresenta, existe uma subtil e palpável tentativa por parte dos criadores da cinebiografia de instrumentalizar o luto da personagem principal, fugindo inclusivamente à verdade imposta pelos factos de maneira a afirmar esse sentimento de depressão como um fomentador de todas as ações do astronauta. Como resultado, a fundação psicológica e sentimental da personagem pode tornar-se algo artificial para alguns espectadores, uma espécie de limonada de pacote repleta de sintéticos e substâncias antinaturais. O limão genuíno, aquele amargo e deformado que faz chorar, ficou perdido entre a Terra e a Lua, abafado pelo barulho do metal a tremer.
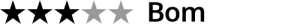
@kubrickamente, go and place your daily vote for Steem on netcoins! http://contest.gonetcoins.com/